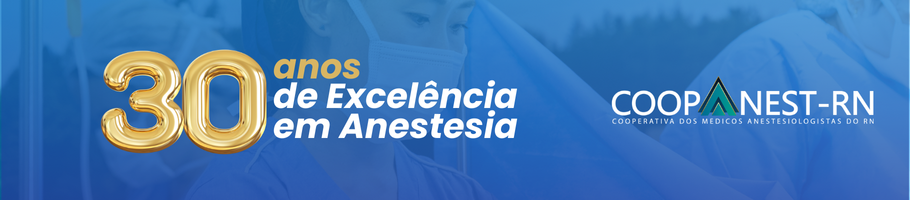
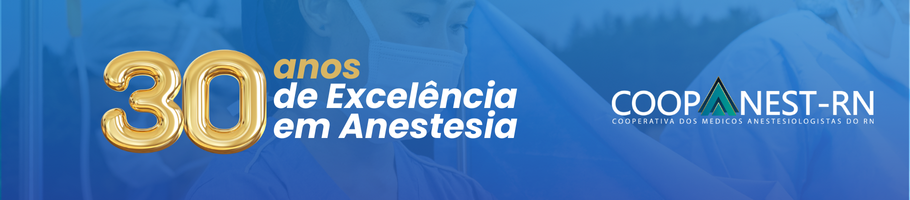
Esse texto eu escrevi tem, acho, mais de uma década, mas sempre que o releio meus olhos se enchem de lágrimas e, de repente, me vem a vontade de republicar, quem sabe tenha alguém que goste de rememorar essa conquista. Nesses tempos de leituras rapidíssimas, de vídeos, quem sabe ainda encontre quem possa ler e saber da emoção que vivemos naquele ano mágico. Minha homenagem especial aos companheiros campeões que já estão em outro plano: o preparador Pedrinho Albuqueque, o dirigente Joilson Santana ( e seu filho Júnior), o massagista João Santana, o zagueiro Lúcio Sabiá, o volante Carlos Alberto e o lateral esquerdo Soares, a perda mais recente.
Na foto: Roberto Vital, César, Saraiva, Ronaldo, Sabiá. Carlos Alberto, Soares e Pedrinho Albuquerque; agachados: João Santana (massagista), Curió, Odilon, Freitas, Didi Duarte, Eu e Claudinho (massagista e faz tudo).
Vejam:
Juro.
Depois de mais de cinco anos no Alecrim – cheguei ao periquito em 1979 – não imaginava que ainda fosse comemorar um título de campeão estadual com a camisa verde.
Meu último clube, em 1984, havia sido o Treze de Campina Grande. Triste experiência. Eu, Odilon, Djalminha, potiguares, com outros colegas de outros estados, e mesmo os da Paraíba, chegamos mesmo a passar fome, sem exagero.
Tinha casado em setembro desse mesmo ano, justo quando estava me transferindo para Campina Grande cheio de esperança de ganhar um bom dinheiro e começar uma boa vida de casado.
Triste engano.
E depois dos meses de decepção, com a chegada do final do ano, liso, sem receber nada do clube paraibano, resolvi voltar para Natal e já com a resolução tomada de parar de jogar futebol.
Estava tão maluco que peguei meu carro, um Fiat 147, recém-saído da oficina, sem pneu de suporte, sem carteira de motorista, sem documento nenhum e peguei a estrada alternativa que me ensinaram, nem a conhecia direito. Sozinho. Acreditem.
Foram quatro horas de sufoco na estrada, agonia, medo de ver um pneu baixar, um polícia rodoviário em algum cruzamento, uma loucura. Narro isso só para ilustrar o meu desespero em voltar para casa e deixar para trás meses de sofrimento de um tratamento vergonhoso, onde, muitas vezes tivemos que pedir um pacote de cuscus para fazer nosso jantar.
Depois de horas de vôo rasteiro, a “última fronteira”, em São José de Mipibu. Estratégia diferente: sacudi quatro moças de vida livre no carro antevendo uma ajudinha extra para passar na rodoviária de Parnamirim, caso fosse parado pelos guardas.
Passamos. As meninas deram adeusinho para os oficiais, conhecidos delas, e tudo bem.
Mas deixa eu adiantar, se não fico contando tim-tim por tim-tim e não chego onde quero, ou os leitores queiram. Deixei as meninas no bairro das Quintas, todas elas.
Em Natal, entrei em contato com amigos do futsal. Acertei meu retorno ao futebol da bola pesada – havia jogado do América em 1978 – e o alvinegro era treinado por Jucivaldo Félix. Claro, minha opção primeira seria o América de meu querido Artur Ferreira, mas eu precisava de um emprego.
E Eudo Laranjeira, dirigente do futsal do ABC, me colocou na sua empresa de ônibus como auxiliar de almoxarifado, dando duro todo dia. Nem tanto. Meu amigo, querido amigo, Wilson Florêncio, meu chefe, meu goleirão das peladas, aliviavas as coisas para mim e ainda me pagava almoço.
De novo, deixa eu adiantar, caso contrário não chego no título de campeão do Verdão, motivo deste meu texto para o povo do bairro querido.
Estava eu na calçada da casa de minha mãe pensando na vida. Pensando no meu Dimitri, primogênito que já nascera, mas ainda morando na casa dos avós com a mãe, e por isso meu incômodo maior.
E lá vem meu querido amigo Ranilson Cristino. Nem conto as vezes que, depois de minha vida de futebolista, esse baixinho me ajudou, e nos momentos mais terríves que um homem pode enfrentar, mas isso é outra história.
O “Pequeno Gigante” chega, para na porta da casa de meus pais e começa a conversar. Eu já imaginava o que ele iria propor.
O Alecrim tinha perdido o primeiro turno e estava mudando de técnico – saiu Ivan Silva e assumiu o Ferdinando Teixeira.
Ranilson, com o aval de Flávio Ribeiro, ao lado de Joilson Santana, eram responsáveis por contratar reforços para esse segundo turno, para o restando do Estadual.
Os irmãos Flávio e Tarcísio Ribeiro queriam provar que poderiam sim conquistar um ti´tulo no Alecrim, na verdade, resgatar, recuperar essa hegemonia de terceira força, e aproveitando para dar uma espécie de lição na direção do ABC.
Bom, Ranilson Cristino me convenceu e me empolgou de novo. Deixei o ABC de futsal, a Cidade do Sol, e voltei ao convívio da bola, do profissional.
O treinador, no dia da minha chegada, fez críticas a Joilson Santana, ao próprio Ranilson e disse que só aceitava minha contratação, que não tinha sido a pedido dele, porque já me conhecia de outras passagens no próprio Alecrim.
A velha mania de passar a imagem de manda-chuva, de independência, comum em vários treinadores de nosso futebol combalido. Uma conversa mole que fazia antever um futuro não tão legal assim. Mas nem me preocupei com isso, afinal, para mim, o treinador, naquela época, era uma pessoa que eu confiava cegamente.
No futebol, isso parece, soa como piada, ainda mais depois de tantas coisas de bastidores que ficamos sabendo só depois que paramos.
Minha estreia seria contra o América, início do segundo turno. Logo num clássico. E pior: com o baixinho Odilon machucado, eu, muito provavelmente, seria titular. E foi assim.
Para surpresa geral da ganhamos de 2 a 0. E fFui escolhido o craque do jogo e ganhei um motorrádio. Deixa eu dizer uma coisa: não joguei para isso, afinal fazia já um bom tempo que só treinava futsal. Mas acho que compensei com garra e muita correria.
Na segunda-feira na resenha da Rádio Cabugi estava lá eu falando e premiado. Parecia mentira. Logo ali, onde tantas vezes fui criticado, até duramente por ter coragem de falar coisas que eles nunca falam.
O surgimento do quadrado mágico
------------------------------
No jogo seguinte, um fato interessante: Odilon, recuperado, voltaria ao time, claro. O Baixinho era nosso grande astro e eu nem contava com algo diferente..
E o treinador me disse isso em campo, ainda durante o treinamento. No entanto, o próprio Odilon, vejam que grandeza, colocou que eu tinha jogado muito bem e que ele ficaria no banco. Ele atendeu a Odilon, de má vontade, mas atendeu.
Era um jogo contra o RAC – Riachuelo Atlético Clube, do querido e saudoso Garrincha.
O time entrou com César, Saraiva, Sabiá (já falecido), Ronaldo e Soares (falecido recentemente); Carlos Alberto (também já falecido), Eu e Didi; Curió, Freitas e Chiquinho das Araras.
Assim, mal tinha começado a partida, o “Francisco” vai à linha de fundo, finta o zagueiro e na hora de cruzar torce o joelho. Chiquinho se machuca sério. Sai na maca chorando, sentidos muitas dores. Uma contusão séria, infelizmente (depois faria cirurgia).
Odilon aquece. O treinador, não sei o que conversou com ele. Lá dentro. Didi, Eu, Carlos Alberto e Odilon conversamos. Tratamos de combinar como ficaria. E foi assim. Quando eu ou "Cabeçao" roubava a bola, desarmava, fazia Didi, e Odilon caía pelo lado esquerdo do campo e partia para cima das defesas.
Quando estávamos sem a bola, o time fazia a recomposição. Eu e Carlos Alberto, dois volantes na cabeça da área na proteção para que também pudesse subir o Soares no apoio, outra forte jogada de nossa equipe, assim como com o Curió pelo lado direito, super veloz e artilheiro.
Tomávamos a bola, acionávamos Odilon ou Curió, e abraços e mais abraços. E foi assim que surgiu o “Quadrado Mágico”, não foi coisa criada ou pensada pelo técnico, surgiu das cabeças de Didi Duarte, Odilon e, modestamente, da minha.
Ganhamos, a partir daí, todos os duelos. Era casa cheia. O Alecrim dos “Irmãos Ribeiro” recuperando a confiança.
Os bichos, as gratificações eram pagas no vestiário, um diferencial enorme, que empolgava nosso grupo. Salários absolutamente em dias, coisa que eu só tinha visto no Alecrim nos tempos do querido Bastos Santana.
Gol anulado e choro na final
------------------------------
Ganhamos com esse quadrado mágico, e também contando sempre com um bom grupo, com a entrada dos meninos Baíca e Manoel Pacote, e do ótimo meia Beto Platini, o segundo e terceiro turno. Na defesa, quando não jogava De Leon, o "Gato" Ronaldo dava conta. E ainda tinha André Cabeça e para o ataque o nosso Romildo "Mão de Pilão", todos jogadores de grande qualidade.
Ninguém segurava o Alecrim. Jogava, como se diz “por música”. O entendimento entre zagueiros, meiocampistas e atacantes era coisa única. Um grupo de jogadores que, acreditem, não precisaria, na verdade, não precisou de treinador para vencer.
E chegamos para fazer a final, a grande final contra o América, campeão do primeiro turno. Estádio lotado. Adrenalina a mil.
O time do Alecrim seria posto em xeque. Muita gente da imprensa não acreditava que o Verdão fosse forte o suficiente para encarar e vencer a final contra o América. Me lembro do “velho” narrador esportivo Hélio Câmara (já falecido) achando que tremeríamos diante do seu clube grande e a vitória ainda seria rubra.
Apesar do grande futebol que apresentamos no segundo terceiro turno, a discriminação contra o Verdinho, assim como hoje, era muito forte.
Mas o grupo estava unido, preparado. Estávamos em regime de concentração por mais de duas semanas seguidas, e sem reclamar. Os “trabalhos” de lavagem com Mãe Aída (especialmente vinda de Brasília) estavam de vento em popa.
Tomávamos banhos de ervas perfumadas e depois, sempre tarde da noite, aproveitando os muitos espaços da Sede Campestre, nos reuníamos para fazer orações e oferendas para que nossos “caminhos fossem abertos”.
Me lembro bem de uma oração que dizia assim: “assim como fogo acaba n`água, que possamos acabar com a força do ABC” (ou América), dependendo contra quem fosse o jogo.
E ao final da oração, todos de mãos unidas, e João Santana (nosso Joãozinho querido, já falecido), massagista era o encarregado de jogar água e apagar a fogueira ( que simbolizava nosso adversário).
Muita coisa havia sido preparada extra-campo para fazer o Alecrim sair da fila de espera.
Nos divertíamos demais. O Alecrim, o time, na Sede Campestre, comendo do bom e do melhor, era uma grande família feliz.
Um elo indestrutível que nos levaria a qualquer conquista que disputássemos, nós não éramos somente companheiros de clubes.
Começa o jogo
-----------------
Odilon imarcável, Curió rapidíssimo, Didi nosso maestro; a defesa firme, craques de bola jogando por música: César, Saraiva, Lúcio Sabiá, De Leon e Soares; Carlos Alberto, Edmo, Didi Duarte e Odilon; Curió e Freitas.
Como eu jogava com a camisa 11 muitas gente, e até comentaristas veteranos, vejam só, achavam que eu era o ponta esquerda do Alecrim. Ainda hoje tem muito cego de guia pensando isso.
Eu atuava como protetor ajudante do primeiro volante, seria hoje o segundo volante, o cara da saída rápida, da ligação com o ataque. E eu fazia isso muito bem, sem falsa modéstia.
Uma das coisas que muito me orgulha ainda hoje é ouvir Didi Duarte dizer, várias vezes, que se não fosse minha presença em campo, fazendo o papel que desempenhava, ele não teria condição físicas de ter rendido tanto. Eu discordo, mas ele afirma isso sempre.
Volto para o jogo, intenso, o Alecrim bem melhor. Falta do lado esquerdo, quase quina de área. Lá vai o Baixinho Odilon bater. Prenúncio de grande lance, era assim sempre que aquele cracaço do distrito de Pajuçara, São Gonçalo do Amarante, ia cobrar uma falta.
Ele chuta, um foguete que faz uma curva de lado da barreira, pressenti que, se Eugênio, goleiro do América, chegasse, não seguraria.
Dito e feito. Ele deu rebote numa defesa difícil.
Cheguei na bola, no rebote, voando, no momento que ele soltava a pelota...o coração parece que ia saltar pela boca, chutei com força, com a alma, como em sonho, gooooooooooooooooooooooooooooo
Minha nossa! Gol meu, eu que quase nunca marcava, fazendo justo na final. Nem sei o que se passou na minha cabeça naquele momento.
Não consigo me lembrar de nada, só do desejo maluco de voar ao encontro da torcida que vibrava enlouquecida naquela arquibacada do lado esquerdo das cabines de rádio, onde se localizava a maravilhosa torcida verde, vontade de abraçar meu filho Dimitri, minha esposa e todos aqueles que acreditavam em mim.
Lá em cima, na arquibancada, Francisco Macedo (querido amigo, torcedor fundador da FERA, outro que já não mais está entre nós) teve um começo de infarto. Passou mal, desmaiou e não viu o restante da partida.
Explico: ele, em conversas com amigos na mesa de um bar, havia dito que sonhava com o título do Alecrim, 1 a 0, gol meu. Por isso, o passamento...
Mas, o desengano.
Já ia correndo desesperado para comemorar quando vi o árbitro, gaúcho (não me lembro o nome, acho que era o Carlos Rosa Martins) com a mão levantada, mandando voltar a cobrança.
Ele não tinha autorizado. Existia isso naquele tempo.
Quase morri. Ia correr na direção do “cara de cachorro buldogue”, minha vontade era dar um “passa pé” no safado, mas aí chega meu anjo da guarda em campo, Didi Duarte...
-Vai não velho, vai não – me disse, segurando meu braço.
-Mas Didi, gol lícito – falei quase chorando.
E Didi: - tem nada não, você faz outro, vamos jogar, vamos jogar, vamos ser campeões - me consolou, previu.
Só Deus sabe o que senti naquele momento. Mas segui. Correndo, combatendo, desarmando, e fazendo meu papel. O Alecrim fazia uma partida maravilhosa.
Fizemos 1 a 0 com o artilheiro Freitas. E 2 a 0 com o Baixinho iluminado Odilon.
Os minutos finais. Parecia um sonho. Era como se eu flutuasse. Não acreditava que aquele sonho, tantas vezes sonhado, adiado, e quase nem mais sonhado, estivesse se realizando no Estádio Machadão quase lotado.
Passava um filme na minha vida, São Tomé, a vinda para Natal em cima de um caminhão (quase pau de arara), os meus amigos com quem batia bola de meia no meio da rua, “seu” Sinedino, meu pai, que já não estava mais conosco, minha mãe, Toinha, que nunca me vira jogar, e nem sabia bem o que era futebol, meus irmãose irmãs, os amigos da Cidade Alta, os que torciam contra e a favor de mim, e principalmente, pensava no meu filho Dimitri (só tinha ele na época), e minha esposa Evânia.
Torcedores do Alecrim e ABC se abraçavam, faziam a festa.
Escutei alguém gritar do banco que faltavam apenas dois minutos. Não sei o que se passou. Me lembrei dos anos de agonia, das discriminações, da falta de respeito, dos bons e dos maus dirigentes, das vezes que fui enganado, criticado...
Comecei a chorar descontroladamente. Soluçava em campo.
E cada companheiro que chegava perto de mim, me consolava e incentivava e reafirmava como se advinhando minha dúvida, minha incredulidade: “somos campeões, Amarelinho, somos campeões porraaaaaaaaaaaaaaa!
“Amarelinho” era um de meus apelidos do futebol.
Fim de jogo.
Torcida invade o gramado, ainda consegui esconder a camisa de número 11. O resto – calção, meiões, chuteiras...me levaram. E eu nem liguei. Desci de sunga para o vestiário.
Me lembro do abraço, eu sem roupa nenhuma, do amigo Joilson Santana (mais um amigo querido que já se foi), que chorava muito me agradecendo pelo “presente que nós havíamos dado ao seu pai, Bastos Santana”. Chorei junto.
Depois de 17 anos de sofrimento, o Alecrim Futebol Clube era de novo campeão estadual contra quase tudo e quase todos.
E eu fazendo parte desta história.
Ainda me lembro, na Praça Padre João Maria, todo o plantel e uma multidão nos acompanhando no pagamento de promessa. Eu já com meu filho Dimitri, de seis meses, no colo, e ao lado de minha esposa Evânia, orando ao padre querido a quem tínhamos feito o pedido humilde do título.
Claro, Dona Aída, a mãe de santo de Brasília, já tinha recebido sua bolada e estava também festejando lá no se terreiro.
Jantares, festas bichos, gratificações, mais festas, abraços e foi assim.
No ano seguinte – 1986 – já sem os irmão Ribeiro, e com um presidente que não nos respeitava – Renato Cirilo – fomos bicampeões.
Mas essa, já é outra história.
Deixe o seu comentário
O seu endereço de email não será publicado







![[VIDEO] Confronto entre facções causam medo nas redes sociais e terror nas ruas da Grande Natal](/storage/2024/11/01JDFQND4YH3SJ880VTWD0H8P0.jpg)
![[TEMPO REAL] Acompanhe as eleições do ABC direto do estádio Frasqueirão, em Natal](/storage/2024/11/01JDFNZ3VK01X0M7E8R6MZVSNV.jpg)
![[VIDEO] Jornalista da 96 sofre ataque homofóbico e responde ao vivo](/storage/2024/11/01JDFNFCTQAF3HH7R16WB7W7WG.webp)
![[🔴AO VIVO] QFC X ALECRIM - CAMPEONATO POTIGUAR 2° DIVISÃO](/storage/2024/11/01JDFP521Z0SPR1B65NX65PSF8.jpg)

![[VIDEO] PM arranca barricada instalada supostamente por criminosos para fechar rua em Mãe Luiza](/storage/2024/11/01JDFR4S2VCE60ADZNZNE24SEB.jpg)